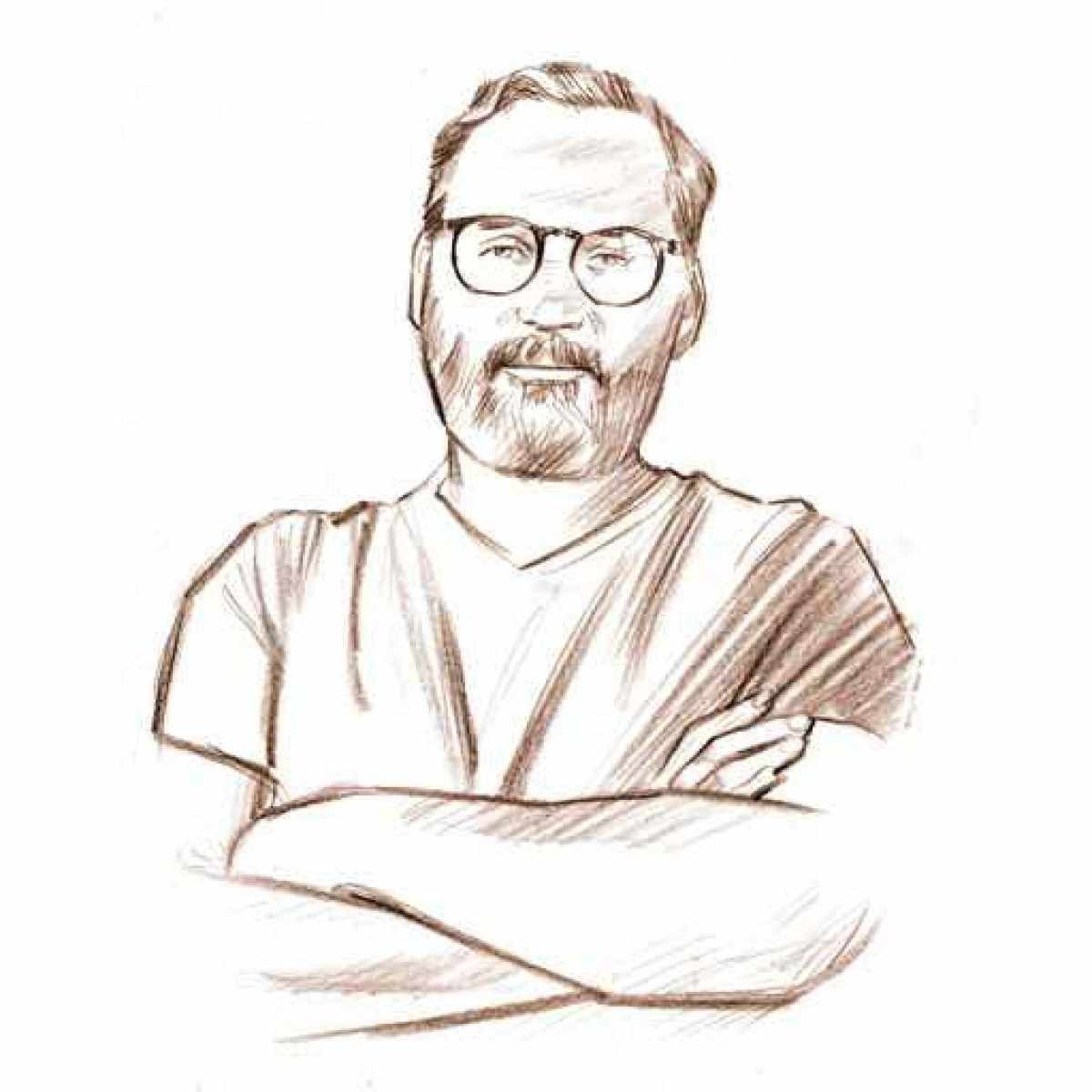
O colapso da escola
Não proponho utopias grandiosas; proponho deslocamentos minimamente corajosos
Mais lidas
compartilhe
SIGA NO
Assistimos ao desmoronamento do mito da escola. De estudante descendo as calças do professor no corredor até chegar ao baixo nível de aprendizagem, o caminho é longo e parece infinito. Ela virou um espaço de gestão de mal-estar; professores e gestores sabem disso. Lugar especializado em apagar incêndios e gerir incômodos. Com isso, aumenta o número de profissionais afastados, sobretudo devido à perda da saúde mental, ao mesmo tempo que cresce a evasão dos estudantes, seja presencial ou simbólica, como nos casos de desatenção e de corpos tristes.
Mas precisamos começar com uma ressalva conceitual: falamos da escola, não da educação. Muita gente, por desatenção ou por outros interesses, desconsidera essa diferença. A educação continua inerente ao processo civilizador. Se há pessoa, há educação. Tolice colonizadora acreditar que ela é apenas um sistema formal de organizar carteiras e engradear conteúdo. Ela existe desde as cavernas, quando alguém tentou ensinar algo a outro alguém.
Leia Mais
Escola é diferente. Algumas vezes sua história se mistura à educação. Em outros momentos, distancia-se consideravelmente. Isto é, escola não é sinônimo de educação. A confusão é conveniente — como toda boa propaganda — porque permite que um sistema se proclame responsável por algo vasto, íntimo e imprevisível (a educação), enquanto, na prática, entrega um produto muito menor, mensurável e vendável: presença, conformidade, certificados.
A escola brasileira, desde sempre, foi menos um espaço de educação e mais um pronto-socorro das crises sociais que o Estado se recusa a resolver. Ora funciona como creche para liberar a força de trabalho dos pais, ora como quartel disciplinador para “ocupar” jovens e impedir que virem estatística da violência, ora como programa assistencial para maquiar índices de desigualdade. Nunca se trata de educação no sentido pleno — formação de pensamento, cultivo de sensibilidade, abertura para a crítica — mas de um uso instrumental, governamental e até policial: conter corpos, administrar riscos sociais, manter o fluxo da economia. O paradoxo é grotesco: exige-se que a escola cure os males de uma sociedade inteira, enquanto se nega a ela a função mais elementar, que seria educar.
Antes que o romantismo pedagógico se entusiasme, admitamos uma verdade desconfortável: em muitas sociedades anteriores à revolução industrial, aprender era espalhado — na oficina, na casa, no campo, na conversa prolongada com um adulto que tinha um ofício, uma história, um senso de propósito.
A revolução industrial foi um marco para essa engenharia do tempo humano. Para que a fábrica funcionasse, era preciso transformar o humano em um relógio: chegar no horário, repetir movimentos, obedecer ao apito. Não é coincidência histórica que, em paralelo à crescente necessidade de mão de obra disciplinada, se operacionalizassem técnicas escolares: horários, sinos, filas, carteiras alinhadas, currículos que privilegiavam leitura funcional, cálculo e normas comportamentais. A escola tornou-se, com todo o seu verniz civilizatório, uma antecâmara da fábrica — um local onde se fazia a preparação para a produtividade e, sobretudo, para a submissão aos regimes temporais e hierárquicos do trabalho assalariado.
Michel Foucault nos ensinou como se constrói o sujeito disciplinar: com relógios, com listas, com olhares que vigiam, com exames que marcam. A escola se transformou, então, no modelo perfeito desse dispositivo: corpos calibrados, gestos indexados, olhares treinados para a cadeira, o caderno, o teste. A escola passou a funcionar como depósito e laboratório de gestão desses corpos: ali se confina o “inconveniente” até que ele se torne, por meio de técnicas laboratoriais, um adulto tolerável à ordem produtiva — ou seja, até que se torne útil, enquanto os que já são “úteis” possam trabalhar em paz. Afinal, na escola até ensinamos, mas o que queremos mesmo é que os corpos ali depositados não nos atrapalhem enquanto “ganhamos a vida”. Se começam a atrapalhar demais, medicamos, ou marcamos uma reunião com a supervisora.
O que parece estar perturbando o modelo produtivo é que esse modelo, gestor de um certo mal-estar, parece entrar em colapso — palavra tão dramática que agrada tanto aos analistas apocalípticos quanto aos gestores neoliberais. Porém, não precisamos de uma cena dantesca de edifícios desabando. A partir da perda de sua função social e da erosão da legitimidade pública, esse ambiente apenas demonstra o descompasso entre o que se promete e o que se entrega.
Assistimos, hoje, a uma escola que está saturada de ser uma espécie de “solucionadora para os problemas sociais”. Isto é, parece surgir uma espécie de negação silenciosa — às vezes nem tão silenciosa assim — em continuar sendo um lugar seguro e reconfortante para os corpos improdutivos, como crianças e jovens. Aquela escola, que nasceu como uma espécie de creche, empresa, tribunal, dispositivo de bem-estar enquanto os “adultos” trabalham, vai colapsar.
Então, o que fazer com o colapso? Não proponho utopias grandiosas; proponho deslocamentos minimamente corajosos. Recuperar a diferença entre escola e educação: entender que educação é cuidado, é mediação de significados, é tornar capacidades possíveis. Reconfigurar instituições para que a escola não seja depósito de corpos, mas ponto de encontro entre saberes comunitários, ofícios, pesquisa, tempo livre e responsabilidade política. É preciso, nesse sentido, democratizar a autoridade pedagógica — não para esvaziá-la em favor do mercado, mas para devolvê-la às comunidades, aos estudantes, aos professores.
Talvez o colapso da escola seja, no fundo, uma chance histórica: deixar ruir a ilusão de que ela daria conta de tudo e, finalmente, perguntar o que queremos cultivar como sociedade. Se a educação sempre escapa das grades, talvez seja hora de assumi-la como prática viva, feita de encontros, conflitos e invenções coletivas — e não como engrenagem de uma máquina falida.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O que está em jogo não é salvar a escola, mas decidir se aceitaremos seguir domesticando corpos ou se ousaremos criar espaços onde a vida, e não a produtividade, seja a medida do aprendizado.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.
